
Responsabilidade fiscal e Covid-19: reflexões para o movimento liberal sobre o PLP 39
September 14, 2020

Por Rafael Paulino, diplomata de carreira desde 2008 e servidor público desde 2003, atua nas áreas de comércio internacional, modernização da administração pública, defesa, e ciência e tecnologia. Mestre em teoria da comunicação pela Universidade de Brasília.
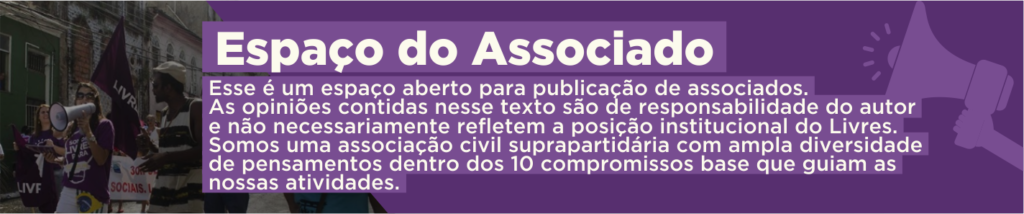
No mês passado a ala liberal-conservadora do governo, liderada pelo ministro Paulo Guedes, obteve vitória importante na Câmara dos Deputados, ao manter o veto presidencial sobre trechos do PLP 39 (LC 173/2020) que salvaguardava categorias profissionais diretamente envolvidas no combate à Covid-19 dos congelamentos salariais aplicados ao restante do setor público. Após a derrubada do veto a estes dispositivos no Senado e seu encaminhamento à Câmara dos Deputados, houve significativa mobilização virtual a favor do veto entre liberais de várias matizes – e não desprovida de razão, dado o histórico de compromisso com a responsabilidade fiscal, especialmente em um momento de retração aguda nos indicadores de emprego e renda, e de queda vertiginosa na arrecadação pública.
No entanto, nos dois dias em que durou a discussão da matéria entre uma casa e outra, assistiu-se à repetição de uma série de argumentos falaciosos e rasos – quando não totalmente preconceituosos – sobre o cenário em que tais medidas de reforço ao combate à pandemia foram adotadas, tanto no mundo real, quanto na esfera política. Impressionou que mesmo líderes liberais bem-informados tenham sido instrumentalizados por uma base política que corria contra o tempo na Câmara, de modo a não deixar prevalecer o clima de oposição ao veto. É lícito supor que a motivação para esse “apagão” analítico foi justamente a falta de tempo para avaliar o contexto da situação, bem como o “efeito de manada” que por vezes assola integrantes de qualquer corrente política. Mas agora, após alguns dias da aprovação, é crucial saber olhar para os acontecimentos e avaliar os aprendizados que ele pode oferecer, para um muito necessário momento de autocrítica e de reavaliação de posturas. Bem ao estilo de Mises, creio haver seis lições deste episódio.
De início, checar os números: a base governista repetiu a quatro ventos que o prejuízo advindo das medidas para as contas públicas seria de 130 bilhões – um número impressionante, mas que fora desmentido pela equipe técnica do próprio Ministério da Economia, que apontava o valor máximo de 98 bilhões, um terço a menos. É importante frisar também o “máximo”, uma vez que os reajustes salariais previstos na medida não necessariamente seriam concedidos, de maneira integral, pelas esferas federal, estaduais e municipais. Ou seja, os valores que porventura fossem destinados ainda estariam sujeitos às negociações específicas de cada um dos entes federados, que poderiam realizar ajustes de acordo com suas necessidades. Não seria a primeira vez que se faria uso de números intencionalmente exagerados em discussões dessa natureza, mas nesse contexto, fica claro que o que estava em foco não era propriamente a destinação dos recursos, mas quem os controlariam – governo federal, ou entes federados – e ainda mais quando a própria consultoria legislativa da Câmara (Nota Informativa 21/Conof) qualificou como “pouco provável” a concessão de novos reajustes, “face à crise financeira de todos os entes”.
A segunda lição tem a ver com a própria noção de boa prática política. Quando foi aprovado, em abril, o PLP 39 foi negociado no contexto de auxílio financeiro emergencial a estados e municípios, frente a uma calamidade pública global, para a qual pouquíssimos entes federados estavam preparados, quer em meios, quer em planejamento de recursos. Isso é ainda mais relevante em um contexto como o brasileiro, baseados em repasses do poder central. As exceções aos profissionais de saúde e demais categorias faziam parte do que fora tratado, e foi a palavra empenhada dos líderes do governo na Câmara e Senado o que garantiu a aprovação da lei – que, cumpre recordar, não superou o teto orçamentário proposto.
Contudo, pelo que vimos, o ministro Paulo Guedes não se satisfez, e não quis honrar o acordo. Talvez sua pasta até pudesse contar com o voto de confiança dos brasileiros, não fossem suas malfadadas declarações, na polêmica reunião ministerial de 22 de abril, de que o governo teria “abraçado” as categorias do serviço público apenas para lhes colocar uma “granada no bolso” de dois anos sem aumento de salário – vangloriando-se de dissimulação e de jogo sujo para fazer prevalecer seu texto. Um verdadeiro Maradona gabando-se de um gol de mão, em uma aula de como não construir confiança no debate público.
A terceira é a de não supor boas intenções no selvagem jogo do orçamento. O governo pode ter alardeado que o país seria ingovernável sem o ajuste, mas não parece ter encontrado dificuldades de fazer aprovar, na mesma semana, Medida Provisória que aumentava salários da Polícia Militar do DF – que é de competência federal, e base para negociações salariais de todas as polícias estaduais – em benefício direto e indireto a um de seus principais redutos eleitorais. Os parlamentares também tiveram seu quinhão, lhes tendo sido facultada, na mesma sessão, a aprovação de emendas – o que só expõe a contradição de comemorar a responsabilidade fiscal em uma mão quando se reparte o espólio do “economizado” na outra. Mesmo os governadores e prefeitos não saíram mal da jogada, afinal foram poupados de negociar com seus respectivos legislativos o tamanho e dimensão dos aumentos, delegando ao governo federal a inglória tarefa de dizer não às categorias mais afetadas, e posando de bons-moços na fotografia das eleições municipais.
A quarta é desconhecer os desafios e peculiaridades da função pública. São mais de 400 carreiras diferentes apenas no serviço público federal, o que revela não apenas a complexidade e ineficiência de uma administração inchada, como também situações muito díspares entre elas. De acordo com estudo recente do Instituto Millenium, o “prêmio salarial’ do setor público é na média de 109% – ou seja, além da estabilidade e benefícios, ganha-se normalmente o dobro do que o observado em função análoga no mundo privado. No entanto, nem todas as carreiras gozam de prêmio tão significativo – no caso dos médicos clínicos, de acordo com o mesmo estudo, é de apenas 1%. Aplaudidos na maior parte do mundo, os enfermeiros, médicos e profissionais de saúde pública figuram entre as carreiras com menos benefícios em todo o universo do funcionalismo brasileiro, juntamente com a educação pública, de assistência social, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana e serviços funerários – todas estas, coincidência ou não, na linha de frente do enfrentamento à maior catástrofe global de nosso tempo de vida. Será mesmo que não era hora de reconhecer que sim, estas funções estão sob riscos e demandas maiores do que o burocrata médio? Ou essa era apenas mais uma maneira de dizer “e daí” para a pandemia?
Nesse sentido, foi oportuna e feliz a inclusão de exceção ao menos aos profissionais de saúde e de assistência social no texto final da lei. É triste que se destaque, no entanto, que tal medida veio sob oposição de boa parte da mobilização liberal, que escolheu continuar reproduzindo, acriticamente, a versão oficial de que a “economia potencial estimada” pela medida seria afetada. Como mencionado acima, o argumento não se sustenta. A pergunta que se propõe é: e se sim, fosse afetada? Na hipótese – e somente na hipótese – de um ente federado ter contas saudáveis o suficiente, por que deveria ser impedido por lei federal de conceder reajuste para as demais categorias negociadas em abril? A limpeza urbana e serviços funerários, no que ainda dependem do poder público, continuam de fora – mesmo sob risco diário acrescido sobremaneira pela pandemia – assim como os profissionais de educação e agentes socioeducativos, que já retornam ao regime normal de funções em boa parte do país.
Isso leva ao quinto ponto: no mundo inteiro, a pandemia levou à discussão sobre diminuição, a título temporário, dos salários do funcionalismo público – um tema controverso, mas totalmente válido. Em muitos países, essa medida foi paralela ao reforço orçamentário para possibilitar as ações de enfrentamento ao vírus sem que se comprometesse a saúde das contas. No entanto, ao assegurar que os rendimentos do funcionalismo não seriam objeto de corte, o governo e o Congresso Nacional se desviaram da questão central, e se colocaram em situação difícil, porém não incontornável – pois, caso queiram criar novas despesas, são soberanos para realizar os ajustes necessários em outras alíneas do orçamento, desde que não se supere o teto de gastos. Colocar a culpa nas despesas obrigatórias é falacioso, pois como vimos, houve recursos para as emendas e para os setores preferidos. A Lei de Responsabilidade Fiscal é provavelmente a maior conquista do país desde o Plano Real, mas é fundamental que o parlamento se aproprie de seu dever perante a sociedade brasileira de assumir os custos políticos de sua manutenção – e não seguir em dependência tóxica do Poder Executivo, que se arvora em ser hegemônico na iniciativa legislativa desde o início da República, principalmente em questões orçamentárias e sobre o trato de seus funcionários.
Por último, é crucial entender que o pensamento liberal, por ser ancorado no livre-pensar, na livre discussão e no livre-convencimento, não admite radicalismos de qualquer espécie. Os corolários de “pureza de ideias” não fazem parte desta tradição, e nesse sentido, a responsabilidade fiscal não pode ser um fim em si mesmo (posto dado por Kant apenas à vida humana), mas uma ferramenta valiosa para um fim, o desenvolvimento econômico. Mesmo a disciplina mais rígida deve ter espaço para ajustes, e em última análise, são justamente esses ajustes que garantirão a sua manutenção no tempo. Em um país como o Brasil, é fundamental dotar o liberalismo de uma boa dose de sensibilidade social, sob pena de seguir aplicando rigores orçamentários a setores historicamente menos favorecidos (pois politicamente menos articulados), enquanto cinicamente se ignora a ação de grupos de interesse para fazer uso dos mesmos recursos para fins bem menos nobres e necessários.
Por oportuno, acrescentaria que o movimento liberal não deve admitir o linchamento virtual sob nenhuma hipótese, sobretudo quando se trata de respeitar o dissenso. Tão importante quanto garantir a coesão de ideias dentro do movimento é manter o espaço de diálogo saudável e aberto, sob pena de reproduzir, entre pares, o mesmo dano que criticamos nas correntes mais extremadas do espectro político – que é, ao fim e ao cabo, uma das principais razões da deterioração do ambiente democrático que vivemos.