
“Achar bom” é crime?
July 2, 2020

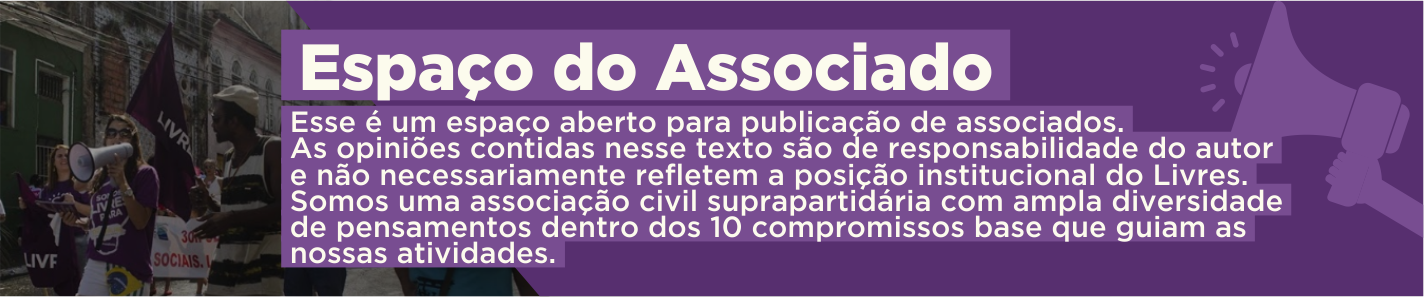
Há uma história muito interessante — que serve muito bem para demonstrar o estágio do Direito em terrae brasilis — que possui dois personagens centrais: um moço e o outro moço.
Ambos os moços, em suas oportunidades — apesar de há anos se conhecerem –, costumavam formular ameaças um ao outro afirmando que caso um deles aparecesse morto, todos poderiam colocar esse feito na conta do sobrevivente — porque era ele quem possuía o maior interesse em sua morte.
É importante aqui, sobretudo, estabelecer que — por serem ambos frequentadores de um mesmo bar –, todos reputavam tais ameaças como “histórias de bêbado” — algo que improvavelmente aconteceria; quer seja pela insensatez de suas formulações ou pelo simples fato de ambos serem, realmente, bêbados.
Acontece que, em certo dia, um desses “moços” morreu (e não de “morte morrida”, mas, sim, de “morte matada”!). Fora, em termos populares, assassinado. E isso, automaticamente — após a morte de um dos “bêbados” ter se tornado notória –, fez com que a atenção de todos se direcionasse ao sobrevivente — exatamente pela suspeita de que teria sido ele o responsável pela morte do outro.
Ao ser recolhido pelos policiais, o moço sobrevivente fora conduzido à presença do delegado de plantão para que houvesse o colhimento de seu depoimento — afinal ele era o principal suspeito de ter cometido essa atrocidade.
Ocorre que, instado pelo delegado quanto ao acontecimento desse crime — e o questionamento do porque de tê-lo cometido –, o moço foi enfático ao dizer que:
“Seu delegado, olhe só: não fui eu quem matou o moço. Eu estava bêbado em casa. Até tenho como isso provar. Queria que tivesse sido eu o autor disso, mas, infelizmente, não sou. Mas, sinhô delegado, queria te fazer uma pergunta importante sobre esse caso: achar bom é crime?”
Bom, até aqui, caso essa história fosse verídica e ocorrida em território brasileiro, podemos dizer que “achar bom” ainda não se configura como crime, contudo um problema reside exatamente no fato de — ainda que achemos a tomada de determinadas medidas, contra quem não gostamos, como algo positivo — isso, mesmo que “inofensivamente” concede endosso aos recentes movimentos de quebra jurídico-normativa que tem, diariamente, obliterado o direito brasileiro. E, quando falo sobre isso, refiro-me, especificadamente, à decisão monocrática prolatada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no âmbito do Mandado de Segurança de n.º 37.097 impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), que concedeu a tutela antecipada requerida para suspender a nomeação de Alexandre Ramagem ao cargo de diretor-geral de Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro.
(importante, contudo — antes de eu apresentar os porquês considero essa decisão (mais uma) quebra da juridicidade pelo Supremo Tribunal Federal –, é importante que você saiba que o Mandado de Segurança que originou essa decisão fora arquivado, em razão de seu mérito restar prejudicado, porque, após ter sido proferida a decisão, o Presidente da República decidiu por sustar o decreto de nomeação).
Pois bem.
Aos Três Poderes, nos termos da Constituição Federal, são atribuídas algumas competências (típicas e atípicas) para promoção de um bom funcionamento do Estado e, até mesmo, para a manutenção de uma segura ordem jurídica; e é dentro desse contexto, então, que se estabelecem, ao artigo 84 da Constituição Federal, algumas das competências do Presidente da República. Um exemplo disso é, talvez, a previsão contida ao inciso XII — que o atribui a capacidade de conceder indulto (questão que eu, inclusive, já comentei aqui) — ou, mais especificadamente, a contida ao inciso XXV — que o permite “prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei”.
Perceba que o referido dispositivo claramente[1], como forma de requisito, estabelece a necessidade que o Presidente da República siga os ditames e parâmetros estabelecidos “na lei” para que seu ato de nomeação esteja carregado de, inicialmente, legalidade.
Em breve parênteses, temos que esses requisitos que brandem certas competências do Presidente da República são muito comuns quando passamos os olhos ao longo do artigo 84, sendo alguns deles: (i) a edição de medidas provisórias — desde que nos termos do artigo 62 da Constituição Federal[2] –, (ii) decretar o estado de defesa e o estado de sítio — desde que em observância aos, respectivamente, artigos 136, e seguintes, e 137, e seguintes, também da Constituição Federal –, ou, até mesmo, (iii) decretar e executar a intervenção federal — desde que em observância ao artigo 34, e subsequentes, da Constituição Federal.
Deste modo, pode-se dizer que, quanto às diretrizes de nomeação das classes da carreira policial federal, quem tratará não será — até aqui — um dispositivo constitucional específico, mas, na verdade, a Lei de n.º 9.266, de 15 de março de 1996; e, em uma breve análise ao seu escopo, vê-se que do Presidente da República é a competência para nomeação dos cargos de diretor-geral da Polícia Federal, sendo como único estabelecido, em seu bojo, que essa posição, por ser privativa da categoria, seja de “(…) integrante da classe especial”[3].
Em outras palavras, a Constituição Federal estabelece que a nomeação é de competência do Presidente da República e que deve ser constituída dentro dos parâmetros objetivos “de lei”, enquanto a própria lex estabelece como seu único requisito que o nomeado seja “(…) de Polícia Federal integrante da classe especial”[4] — e isso acontece não porque eu quero que assim seja, mas, na verdade, porque o legislador assim quis que fosse.
Veja que alguns requisitos poderiam ser estabelecidos no sentido de filtrar eventuais nomeações que fossem concretizadas e estivessem eivadas de ilegalidade, mas isso não acontece porque a lei assim quis que fosse. O próprio ministro Alexandre de Moraes, em sua decisão, tais questões reconhece como, inclusive, um dos fatores que caracterizam a existência de um sistema presidencialista — que confere muitas atribuições concentradas na caneta de um sujeito só: o Presidente da República:
“(…) caracterizado pela concentração de poder pessoal na figura do Presidente, o sistema presidencialista garantiu sua imparcial e livre atuação, balizada necessariamente, pelos princípios constitucionais e pela legalidade dos atos do Chefe do Poder Executivo, a fim de manterem-se a independência e a harmonia dos Poderes da República(apud GIOVANNI SARTORI. Engenharia constitucional: como mudam as constituições. Brasília: UnB, 1996. p. 99; DONALD ROBISON. To the best of my ability: the presidency the constitution. New York: W. W. Norton & Company, 1987. p. 87 ss; HENRY BARRET LEARNED. The president’s cabinet: studies in the origin, formation and structure of an american institution. New Haven: Yale University Press, 1912. p. 379; EDWARD CORWIN; LOUIS KOENING. The presidency today. New York: New York University Press, 1956. p. 2; CLINTON ROSSITER. American presidency. New York: New American, 1940. p. 13 ss; ROBERT DAHL. Democracia. Brasília: UnB, 2001. p. 131. GIOVANNI BOGNETTI. Lo spirito del costituzionalismo americano. Turim: G. Gioppichelli, 2000. v. 2, p. 241 ss.; ASSIS-BRASIL. Do governo presidencial na república brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Calvino, 1934. p. 141 ss.)”[5].
(meu realce)
“(…) para efetivar-se verdadeiramente a denominada “Constituição equilibrada” defendida por BLACKSTONE, se por um lado, no exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade para escolher aqueles que entender como as melhores opções para o interesse público no âmbito dos Ministérios e, como na presente hipótese, na definição da chefia da Polícia Federal (…)”[6].
(grifo e realce meus)
Mas erra quando poderá que:
“(…) por outro lado, o chefe do Poder Executivo deve respeito às hipóteses legais e moralmente admissíveis, pois, por óbvio, em um sistema republicano não existe poder absoluto ou ilimitado, porque seria a negativa do próprio ESTADO DE DIREITO, que vincula a todos — inclusive os exercentes dos poderes estatais — à exigência de observância às normas constitucionais.”[7].
Reputo como um “erro” em razão de o ministro pautar a ilegalidade na nomeação ao fato de requerer, do Presidente da República, “(…) respeito às hipóteses legais e moralmente admissíveis (…)” (grifo e realce meus), sendo que não é eventual moralidade — ou a inexistência dela — imperativo capaz de obstar a nomeação de cargos, mas, sim, o próprio império da lei.
Veja: não há, em termos gerais, como se estabelecer o que — principalmente neste caso — pode ser considerado como uma atitude moralmente lícita ou ilícita porque o Direito, como prática científica, deve estar desvinculado da moral. Não se poder permitir, para a existência de uma produção democrática, que haja solta a possibilidade de um entrelaçamento da moral e do direito como se uma coisa só fossem, exatamente porque a moral, na cabeça de um indivíduo — principalmente de um juiz –, não é democrática[8].
Esse é um dos problemas, por exemplo, quando adentramos às teses kelsianas, porque elas, na sua forma, defendem que não haja uma separação de Direito e da moral — até porque, para que funcionasse, a norma fundamental devesse ser carregada pela ousia da moralidade para validar a existência do sistema jurídico. Isso, nesses termos, permitia a que se cresse, por exemplo — dentro dessas teses –, que toda produção jurisdicional, quer seja ela discricionária ou não, já seja considerada boa porque já estaria purificada da mácula da imoralidade e que, portanto, independentemente de seu objeto, deveria ser seguida posto que válida[9].
(isso, inclusive, difere daquilo que Habermas[10] propõe quanto às normas jurídicas: segundo ele, as normas jurídicas, em seu contexto, pressupõem serem válidas porque podem ser justificadas, também — além de moralmente — por razões pragmáticas e/ou ético-políticas, em razão do direito simplesmente não dever delimitar as questões morais[11]).
Noutra banda, pensemos nesse cenário de direito e moralidade como se uma árvore fosse: quando deixamos que o direito e a moral estejam coligados, é como se acreditássemos que todos os frutos provenientes dessa árvore estejam bons e prontos para o consumo — posto que já estariam purificados moralmente — e que, por isso, nunca estarão estragados (o direito não poder admitir frutos maculados )[12]; ou seja: da mesma forma que pode um juiz considerar como imoral que um parlamentar se utilize de verba destinada à auxílio moradia para “alimentar-se de gente”, outro pode considerar isso uma coisa completamente moral porque a finalidade da destinação da moradia, paga com o auxílio, não importa moralidade.
Continuemos: quando pensamos que o direito é uma árvore e que a moralidade é um simples galho que a compõe, temos, então, outro problema, porque, nesse cenário, o direito não somente poderá estabelecer, por exemplo, quais são os valores prementes socialmente — o que, por si só, já se formaria como algo preocupante –, mas, também, proporia aquilo que pode ser definido como moral ou não — o que, é importante que se ressalte, não é o que existe dentro de um saudável ordenamento. O próprio ordenamento jurídico brasileiro, ainda que ousado da maneira que é, não esboça formas objetivas de delimitar o que seria moral[13] ou não (estabelece, por outro lado, a moralidade como princípio geral[14] que deve a administração pública seguir). A própria definição de doutrinadores brasileiros, independentemente de sua ótima lavra, é vaga com relação ao que seria essa moralidade:
“(…) o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. E ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto.”[15]
Contudo, quando a árvore[16] é, na verdade, um mundo de valores dotado de diversos galhos onde, um deles, é uma moralidade política (na formação de normas) que possui, por sua vez, como um de seus ramos o Direito é que adentramos em um sistema onde o juiz não pode determinar aquilo que é moral porque a convenção legislativa democrática já se preocupou em formar as normas jurídicas possuintes do ímpeto de moralidade vigente que comporão esse dado sistema jurídico, não podendo, portanto, fazer-se juízo de valor, em sede jurisdicional, quanto a moralidade de determinado ato ou não[17], isto é: objetivamente, ou ele será ou lícito — porque preenche requisitos jurídicos — ou ilícito — porque não os preenche.
Perceba que esse sentimento é exatamente o que forma a antijuridicidade acometida em eventual decisão judicial que determine, ou conceda legitimidade, formações atentatórias à garantias e direitos individuais[18].
Isto é: dentro dos conceitos filosóficos que a decisão carrega em si, não poderia ser alçada uma suposta imoralidade para ponderar sobre a prática de determinado ato porque, como bem diz o ministro, “(…) não cabe ao Poder Judiciário moldar subjetivamente a Administração Pública (…)[19]” — algo que nem mesmo o artigo 37 da Constituição Federal autoriza. Dispositivo este que, ainda que não estabeleça especificadamente o que é moral ou não, não versa sobre impedir liminarmente a prática de um ato que possua tendência a ser ilegal, pessoal, não público ou ineficiente, mas, sim, abre espaço a sanções que advirão em represália a atos que, de fato, estejam viciados. Isso importa, no caso de servidores públicos, em “suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”[20] ou, até mesmo, no caso do Presidente da República, em pedido de abertura de procedimento de impeachment.
Trata-se de, então, reconhecer que, nesses casos, o filtro da legalidade de determinado ato está calcado em sua formação material, sendo apenas daí que se poderá considerar algo como crime ou ato improbo.
Perceba o quão perigosa é a argumentação que abarcou a decisão quando passamos a pensar que, de acordo com o decisum, há evidentes intenções do Presidente da República de nomear alguém próximo de si para interferir no andamento de investigações — o que, portanto, configuraria como uma tentativa de subverter a República em algo pessoal e que, assim sendo, caberia ao Poder Judiciário a responsabilidade de sustar esse ato –, tratar-se-ia de identicamente dizer que, a partir daquele dia — sendo evidente a intenção delitiva –, todos os nomes que fossem eventualmente alçados à posição de diretor-geral de Polícia Federal no Rio de Janeiro deveriam, necessariamente, passar pelo crivo do Poder (moderador) Judiciário — exatamente porque se ele quer interferir, pode até não o conseguir fazê-lo por meio de Ramagem, mas pode, sim, tentar fazê-lo com outros aliados seus.
Digo isso porque, considerando que a intenção final é a interferência propriamente dita, ela será feita quer impeçamos liminarmente as nomeações ou não — porque a atribuição de nomeação ainda está sob a caneta desse sujeito que quer interferir; e ele, certamente, não nomeará alguém que não cumprirá seus ordenamentos de interferência.
Trata-se de uma consequência lógica: caso queiramos continuar seguindo os esteios morais que fundamentaram a decisão — tornar-se-ia como imprescindível que, a partir do conhecimento da intenção presidencial, todas as nomeações relacionadas a cargos de diretor-geral da Polícia Federal do Rio de Janeiro devam ser balizadas pelo Poder (moderador) Judiciário; de modo que, por 0outro lado, caso passemos a abandonar os esteios que a fundamentaram, incorreremos exatamente na aceitação a que se produzam decisões discricionárias que, a depender do polo passivo, podem escolher por prejudicar determinado sujeito ou não.
Veja que esses pontos que relevei até mesmo se confirmam pelos acontecimentos que desbocaram, por exemplo, na nomeação de Rolando Alexandre de Souza ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Rolando que, após tomar posse, exatamente realizou a troca do comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro — materializando, então, os anseios presidenciais.
Rolando Alexandre de Souza trabalhou, como braço-direito, de Alexandre Ramagem Rodrigues na função de secretário de planejamento e gestão da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) desde 2019 — que fornece assistência de inteligência ao Presidente da República. Em outras palavras: deu na mesma, uma vez que o nomeado ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal foi braço-direito do sujeito barrado cautelarmente pelo ministro.
Ora: considerando-se que há uma tentativa de aparelhamento da Polícia Federal do Rio de Janeiro pelo Presidente da República — a que culminou na concessão de segurança em face da nomeação de Alexandre Ramagem, não seria mister que, de maneira igual, houvesse o barramento Rolando Alexandre de Souza — porque ele, efetivamente — além de também ser próximo do Presidente da República –, promoveu alterações nos cargos da Polícia Federal do Rio de Janeiro? Ou vocês não viram que seu primeiro ato no cargo foi de, exatamente, retirar de Carlos Henrique Oliveira da superintendência da Polícia Federal e, por consequência, da linha de frente de investigações que conduzia?
Trata-se, este, de um terreno muito perigoso; um lamaçal impossível de se sair quando fazemos a análise de todas as suas possibilidades. Contudo, importante é que saibamos que, ainda que pareça ser esse um caso difícil, ele assim não o é.
Uma forma que gosto de estabelecer se determinado caso é fácil ou difícil passa pela ideia gerada por Dworkin quando, em o Império do Direito[21], ele faz a análise sobre o caso de Riggs vs. Palmer, além de concluir que somente o “juiz Hércules”, em casos difíceis, ser capaz de proferir uma decisão efetivamente correta.
Ocorre que o caso em tela não é difícil; e não o é porque a própria legislação brasileira permite que ele seja facilmente resolvido quando estabelece, como forma de cerceamento desses tipos de atos pelo Presidente da República, uma ampla moldura de freios e contrapesos — em razão da própria Constituição Federal e da Lei de n.º 1.079, de 10 de abril de 1950.
Em outras palavras diz-se que, a depender do ato praticado e materializado pelo Presidente da República na tentativa de interferência nos procedimentos da Polícia Federal, haver-se-á a formação de crime de responsabilidade ou crime comum, sendo, portanto, ele, alvo de pedido de abertura de processo de impeachment. Isto é: consumado o ato delitivo, a lei prevê os mecanismos para, inclusive, afastar o Presidente da República do cargo — mas não concede azo para que se suste o cometimento de eventual interferência que ele, ainda que queira, sequer tinha materialmente praticado.
Nesses termos, ao fim, nós, como sociedade, acabamos admitindo — quando encaramos esse tipo de decisão com naturalidade — uma dupla interferência. Dupla por que a interferência que o Presidente da República almejava já aconteceu e, ainda que ao arrepio legal, a interferência pelo Supremo Tribunal Federal em prerrogativa do Presidente da República também.
Vale ressaltar que esse tipo de interferência do Supremo Tribunal Federal em prerrogativas do Presidente da República tem sido constante em terras brasileiras — o que, por consequência dessa repetição, podemos contundentemente propor que já há, até mesmo, uma tese consolidada. Tese esta que, não obstante a isso, recai exatamente em duas questões: (i) de, a partir de agora, conseguirmos atribuir elementos impeditivos à nomeação de qualquer um a qualquer cargo e, em razão disso, (ii) sempre estarmos inseguramente na mão da vontade de juízes que, vez sim vez não — a depender de seu humor –, compelem-nos a obrigações que, sequer, sabemos que devemos assumir[22].
Digo isso exatamente em razão de que, sob justificativas que possuem uma mesma origem viciada, na história recente já foram barrados: (i) Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de ministro de Estado da Casa Civil, (ii) Moreira Franco, por duas vezes, ao cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, (iii) Cristiane Brasil ao cargo de ministra de Estado do Trabalho, (iv) Ricardo Lopes Dias na Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato da Fundação Nacional do Índio (Funai) e (v) Sérgio Camargo à presidência da Fundação Palmares. O 6º barramento se consolida com Alexandre Ramagem.
É preocupante a adoção desse tipo de decisório discricionário exatamente porque, sob o uso de argumentos morais e abstratos, ser possível justificar o barramento de (quase) qualquer pessoa.
Ou não?
Em questões fáticas: não seria imoral a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal que por ser conhecido de juventude do Presidente da República é conduzido ao cargo? Não seria imoral a nomeação pelo Presidente da República para ministro do Supremo Tribunal Federal alguém que fora advogado de seu partido ao longo de 8 anos? Não seria imoral a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal por seu primo? Não seria imoral a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal porque foi advogado do amigo do presidente da República?
Melhor: não seria imoral a nomeação de um ministro da Justiça que, ainda que absolvido, fora réu? Um ministro das Relações Exteriores que não sabe falar inglês? Um ministro da Economia formado na Unicamp[23]? Um ministro da Infraestrutura que, por um cálculo errado na juventude, viu uma de suas obras ceder ao tempo e ceifar a vida de milhares de pessoas? Um ministro da Educação que não sabe escrever? Um ministro da Saúde que fuma? Um ministro da Ciência e Tecnologia que não tem o primário? Um ministro da Controladoria Geral da União que teve sua habilitação cassada? Ou um ministro da Mulher e da Família que é homem e divorciado?
Ainda que pareça loucura, é possível que se utilize a fundamentação das seis decisões, aqui, mencionadas para barrar cada um dos exemplos que citei aqui e, ainda sim, ver essa decisão ser considerada boa — o que, independentemente disso, não a fara boa ser.
Isto é: as justificativas utilizadas, além das que eu já comentei aqui, de:
“O agente público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mostrar que possui tal qualidade. Como a mulher de César”[24] (apud RE 160.381/SP, SEGUNDA TURMA, DJ de 12/8/1994), “(…) princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade (…)”[25], “O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto, tem o dever de analisar se determinada nomeação, no exercício do poder discricionário do Presidente da República, está vinculada ao império constitucional (…).”[26], “(…) a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto”[27](apud POUND, Roscoe. Liberdade e garantias constitucionais. Ibrasa: São Paulo, 1976, p. 83)
Ou, até mesmo, as demonstrações[28], ao longo do decisum, de que havia (e sabemos que há) intenção do Presidente da República para interferir no órgão, não se formam como justificativas suficientes a que aceitemos a adoção de decisões completamente discricionárias em nome de tentar barrar uma prerrogativa do Poder Executivo. Sem contar que esta, especialmente, poder ser utilizada — como demonstrei acima — para justificar qualquer outra decisão que tente barrar ares de imoralidade[29].
Há, sim, como bem reconheceu o Ministro[30], a possibilidade de determinado ato de nomeação ser instado e balizado ao Poder Judiciário, mas ele, exatamente, remonta-se na eventual incidência de nomeação que esteja eivada de dúvidas concernentes aos requisitos objetivos, pela legislação, estabelecidos — até sob força do inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição Federal.
Não há, então, outra percepção a esse novelo brasileiro de tristeza e dor — e retomando à história inicial que compartilhei com vocês — senão identificar, dentro desse contexto, como seus principais personagens: o moço sobrevivente — que representa aqueles que não se importam com a integridade do direito porque analisam determinado processo sob o prisma de quem ocupa seu polo passivo — e o morto moço — que, na realidade, representa o direito que, reiteradas vezes, vem sendo aniquilado.
E, sobre isso: não é que o moço sobrevivente seja responsável pela morte do outro moço — até porque “achar bom” não pode ser considerado como crime –, mas é que ele, no fim, acaba propositalmente vilipendiando o túmulo do morto moço ceifado pela bala das produções jurisdicionais ruins.
[1] Art. 84. (…) XII — conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
[2] Inciso XXV, artigo 84, da Constituição Federal.
[3] BRASIL. Lei de n.º 9.266, de 15 de março de 1996. Artigo 2º-C.
[4] Idem.
[5] BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Decisão Monocrática em Mandado de Segurança de n.º 37.097. Relator: Ministro MORAES, Alexandre. DJe: 30 de abril de 2020, p. 5–6.
[6] ______, p. 6.
[7] Idem.
[8] BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico: lições de filosofia do direito, compiladas por Nello Morra; tradução e notas Márcio Puglesi, Esdon Bini, Carlos E. Rodrigues, São Paulo: Ícone, 1995, p. 40.
[9] STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 38, nota nº 9.
[10] HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 172, 219, 221, 223 e 225.
[11] Sobre esse ponto: segundo Habermas, esses poderiam ser os fundamentos das normas jurídicas: éticas — aquilo que, em longo termo, pode ser considerado como uma coisa boa ou ruim segundo uma coletividade de valores culturais –, morais — uma forma correta de agir boa a todos — e pragmáticas — um agir imbuído a que se alcancem possíveis determinados fins.
[12] O que não acontece porque o pendulo da moralidade varia de indivíduo a indivíduo.
[13] Veja que, aqui, não trato da Lei de n.º 8.429, de 2 de junho de 1992 porque ela, per si, refere-se aos atos de improbidade administrativa “nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional” e não sobre os atos genéricos da administração pública.
[14] Artigo 37, caput, da Constituição Federal.
[15] MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Ed. Medeiros, 2012.
[16] DWORKIN, Ronald: A Raposa e o Porco-espinho: Justiça e Valor. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. — São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014, p. 405–407.
[17] E perceba que o próprio ministro já acredita na tese de que o “(…) Poder Judiciário, portanto, deverá exercer o juízo de verificação de exatidão do exercício da discricionariedade administrativa perante os princípios da administração pública (CF, art. 37, caput), verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica do ato administrativo com os fatos.” (p.9). Em outras palavras, dentro desse conceito, somente pode exercer cargo público quem o Poder Judiciário, instado, dizer que pode.
[18] Questão que, dentro do conceito brasileiro, não seria possível pela democrática formação jurisdicional (o que, de pronto, obsta a criação de normas nesse sentido porque não seriam recepcionadas pelo ordenamento jurídico) e, principalmente, porque não haveria juízo tendente a validá-las com força normativa.
[19] BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Decisão Monocrática em Mandado de Segurança de n.º 37.097. Relator: Ministro MORAES, Alexandre. DJe: 30 de abril de 2020, p. 7.
[20] § 4º.
[21] DWORKIN, Ronald. O império do Direito. (Tradução de Jefferson Ruiz Camargo). 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
[22] BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico: lições de filosofia do direito, compiladas por Nello Morra; tradução e notas Márcio Puglesi, Esdon Bini, Carlos E. Rodrigues, São Paulo: Ícone, 1995, p. 40.
[23] Talvez tenha sido uma piada.
[24] BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Decisão Monocrática em Mandado de Segurança de n.º 37.097. Relator: Ministro MORAES, Alexandre. DJe: 30 de abril de 2020, p. 9.
[25] Idem.
[26] ______, p. 10.
[27] ______, p. 11.
[28] ______, p. 11, 12, 13 e 14.
[29] Algo que, inclusive, veda-se pelo artigo 489, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil.
[30] “GEORGES VEDEL aponta, em relação a todos os atos administrativos discricionários, a existência de um controle judicial mínimo, que deverá ser realizado sob o ângulo de seus elementos, pois, embora possa haver competência do agente, é preciso, ainda, que os motivos correspondam aos fundamentos fáticos e jurídicos do ato, e o fim perseguido seja constitucional e legal” (apud Droit administratif. Paris: Presses Universitaries de France, 1973. p. 320). P. 10.