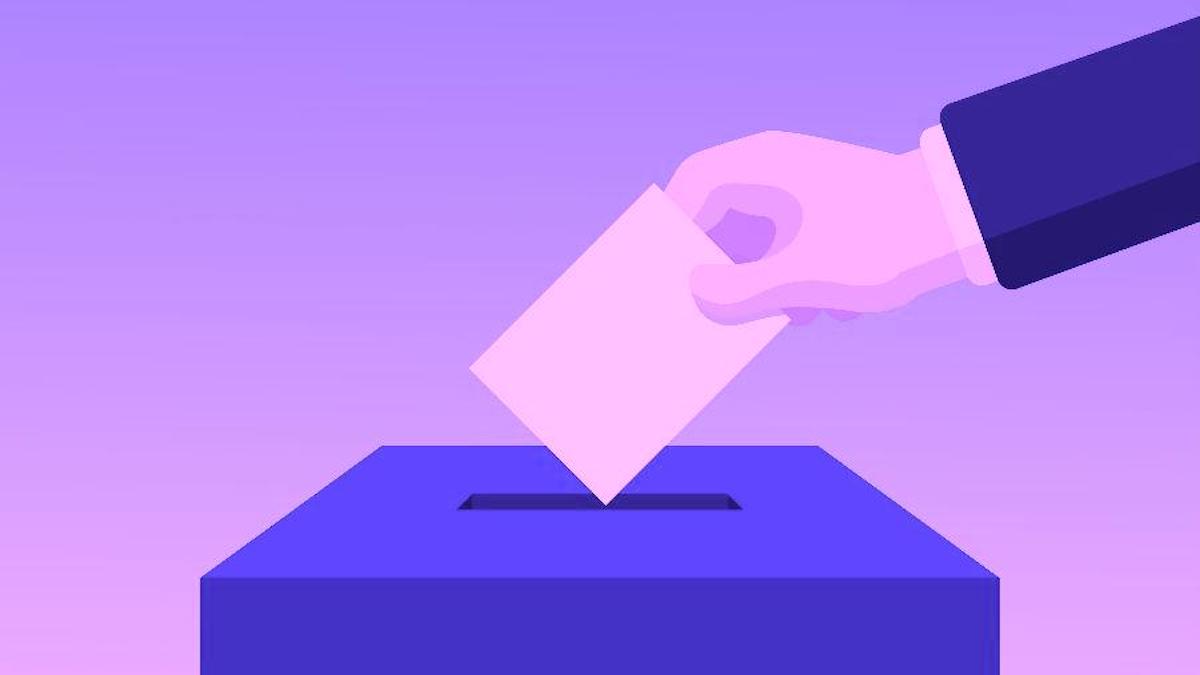
Direitos de escolha: por que o ato de votar deveria ser voluntário no Brasil
September 9, 2020
Democracia
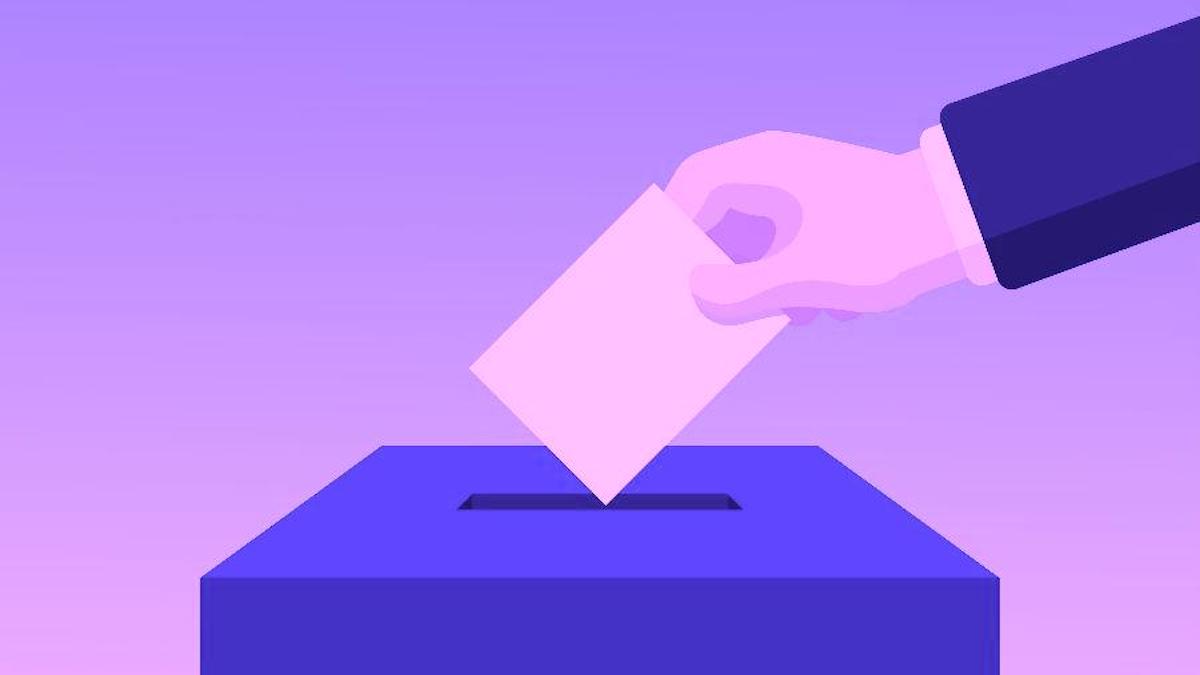
Por Paulo Tafner, especialista em previdência, economista, doutor em ciência política e pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Publicou diversos livros: o mais recente é Reforma da previdência: por que o Brasil não pode esperar?, escrito em conjunto com Pedro Nery.
Esse artigo foi originalmente publicado na InfoMoney. Leia na íntegra aqui.
Parece bastante consolidada a ideia de que, em sociedades democráticas, os indivíduos expressam suas preferências nas urnas e, por consequência, as políticas públicas são definidas a partir das preferências majoritárias expressas no número de votos.
Claro que regras eleitorais distorcidas, um sistema partidário excludente, regras de representação desproporcionais e um processo de debate e disseminação das informações distorcidos, entre outros, podem moldar resultados diferentes daqueles que seriam obtidos sob regras mais justas e equilibradas.
Vejamos apenas dois exemplos do que estou dizendo.
Nossa democracia desenhou um sistema bicameral com Câmara Federal e Senado. O distrito de representação são os municípios e os estados.
A Câmara representa as preferências da população e o Senado deve representar as Unidades Federativas.
Em ambas as casas, a unidade de representação é a Unidade Federativa. Na Câmara, a população de cada Unidade Federativa deve ser representada.
Assim, estados mais populosos devem ter maior número de deputados federais. Para evitar que estados com população numerosa tivessem preponderância nas decisões, o Senado tem o papel de fazer equilíbrio, de modo que cada Unidade Federativa tem o mesmo número de senadores, independentemente do tamanho de sua população.
Mas nossa democracia foi além: para impedir que estados populosos tivessem uma representação “exacerbada” na Câmara Federal, foram estabelecidos um “piso” e um teto de representação para cada estado.
Assim é que cada Unidade Federativa tem, no mínimo, oito deputados federais (casos do Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins) e um máximo de 70 (caso de São Paulo).
Isso faz com que, na prática, nossa representação na Casa do Povo (Câmara) seja bastante desequilibrada.
O voto de um catarinense, por exemplo, vale apenas 71% do voto de um roraimense; o voto de um mineiro vale 26,5% do voto de um amapaense; o voto de um fluminense vale somente 29,4% do voto de um acreano; o voto de um paulista vale 30% do voto de um tocantinense.
Um segundo exemplo diz respeito à coligação partidária para eleições proporcionais que vigorou até 2017 – portanto, até a última eleição para Câmaras Municipais e até a eleição de 2014 para deputados estaduais e federais.
A lógica das eleições proporcionais é permitir que todas as agremiações político-partidárias, pequenas ou grandes, à direita ou à esquerda, conservadoras ou progressistas, apresentem suas candidaturas e as submetam ao crivo do voto.
Assim, todos podem ter sua representação parlamentar, desde que atingido o mínimo de votos requerido (o quociente eleitoral).
Ao se permitir a coligação partidária, o desejo do eleitor é parcialmente subvertido, pois votos dados a um partido migram para outros partidos da coligação.
Em trabalho de 1997, eu calculei os efeitos das coligações em algumas eleições. Nas eleições de 1986, das 487 vagas da Câmara Federal, 36 (7,4%) foram ocupadas por partidos por decorrência das coligações partidárias.
Em 1990, foram 40 (7,9%) das 503 cadeiras e, em 1994, 35 (6,8%) das 513. Processo semelhante ocorreu nas eleições seguintes.
De lá para cá, houve avanços tanto institucionais quanto no âmbito jurídico, com decisões do Judiciário. Houve também alguns recuos.
Em 1995, foi aprovada a Lei 9.096 (Lei dos Partidos Políticos) que instituía a chamada “cláusula de barreira”.
Acreditava-se que isso iria exigir desempenho dos partidos e inibir a criação de “nanicos”, que nada mais eram, em sua grande maioria, uma mercadoria a ser negociada em cada eleição.
Entretanto, em dezembro de 2006, decisão unânime do STF, que julgava duas ADIs (1.351, do PCdoB e 1.354, do PSC), deliberou pela inconstitucionalidade da “cláusula de barreira”.
Onze anos depois, em 2017, o ministro Gilmar Mendes reconheceu que o STF teria cometido um erro. Afirmou o ministro: “Hoje, muitos de nós fazemos um mea culpa, reconhecendo que esta foi uma intervenção indevida, inclusive pela multiplicação dos partidos.” (grifo nosso).
No mesmo ano, o Congresso aprovou a PEC 33/2017 que criou, a partir dos resultados das eleições de 2018, cláusulas de desempenho eleitoral para que partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de televisão.
Além disso, ela acabou com as coligações proporcionais para deputados e vereadores (para estes, a partir da eleição de 2020, ou seja, o pleito deste ano).
A cláusula de desempenho será progressiva, iniciando com o piso de 1,5% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das Unidades da Federação (nove estados, ao menos), com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas.
Esses limites vão crescendo até atingir, a partir de 2031, um mínimo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com ao menos 2% dos votos válidos em cada uma delas.
Há ainda muito o que fazer na agenda de reforma política.
Nas eleições presidenciais de 2018, por exemplo, havia 147,3 milhões de eleitores aptos a votar. Desses, 31,4 milhões não compareceram (21,3%). Outros 8,6 milhões votaram nulo (5,8%) e, ainda, 2,5 milhões votaram em branco (1,7%).
Em conjunto, 29% dos eleitores ficaram “ausentes” do processo de escolha.
Não foi um processo isolado. Nos dez maiores colégios eleitorais do país, o fenômeno foi semelhante.
Em São Paulo, 21,8% não compareceram, 10,7% votaram nulo e 3,2% em branco, totalizando 35,7% de “ausência”. Em Minas Gerais, 29,3% não foram votar, 12% votaram nulo e 3% votaram em branco. Os “ausentes” somaram 44,4% do total de eleitores aptos a votar.
No Rio de Janeiro, 24,1% não votaram, 10,2% votaram nulo e 2,8% em branco. Foram 37% os “ausentes”. Na Bahia, 20,7% não compareceram, 11,22% votaram nulo e 3% votaram em branco. No mais populoso estado do Nordeste, os “ausentes” somaram 35% do total de eleitores.
No Rio Grande do Sul, foram 30,1% os “ausentes”; no Paraná, 28,5%; em Pernambuco, 42,4%; no Ceará, 31,8%; no Maranhão, 30,6% e no Pará, 32,1%.
Por certo alguns dirão que votos brancos e nulos expressam uma posição. É verdade. Mas uma dessas posições é o fato de que não querem participar desse processo. Pelo menos não do jeito que o eleitor vê hoje.
Ora, se nas mais importantes eleições do país pelo menos 30% do eleitorado está ausente, por que não discutirmos seriamente tornar o voto facultativo?
Em vários países isso ocorre: Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Suécia e outros.
Há vários também em que o voto é compulsório: Argentina, Bélgica, Egito, Congo, Equador, Grécia e Tailândia, dentre outros.
Há casos em que o voto era compulsório e passou a ser facultativo. São os casos de Áustria, Chile, Líbia, Portugal e Holanda.
Acho que é hora de pensarmos em um processo gradual de transformar o ato de votar em um ato de consciência – e voluntário.
Podemos ter alguns problemas, mas duas coisas serão certas: o voto de cabresto deve diminuir sensivelmente e haverá maior cobrança dos eleitos. As preferências manifestas e o corpo Legislativo devem andar mais alinhados.
Em tempos de mudanças pós-pandemia, eis uma agenda renovadora.